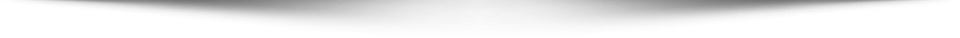Não é o celular que te chama. É você que corre pra ele toda vez que o mundo fica quieto –
Você desbloqueia seu telefone mais de cem vezes por dia. Não porque precisa. Mas porque não sabe mais não fazer nada melhor na maioria das vezes. O gesto é quase involuntário. O dedo desliza para cima como se estivesse procurando algo — mas muitas vezes nem sabe o quê.
Um estudo da Apple mostra que o número médio de desbloqueios diários no iPhone ultrapassa 100 interações. Outro estudo recente mostra que o ser humano médio desbloqueia o celular entre 96 e 150 vezes por dia. Outro, da Deloitte, aponta que 60% das pessoas checam o celular menos de cinco minutos depois de acordar. E que 40% admitem mexer no telefone mesmo durante conversas presenciais. O dado mais simbólico talvez seja esse: 89% das interações com o celular são iniciadas sem uma notificação. Ou seja, não é o telefone que chama. É você que procura. Apenas porque está ali.
O cérebro, estimulado ao longo de anos por alertas, toques, luzes e bolhas vermelhas, aprendeu que o celular é o atalho mais curto entre o tédio e algum tipo de dopamina. Mesmo que pequena. Você abre o Instagram e fecha. Abre o WhatsApp e fecha. Abre o e-mail e fecha. E recomeça.
Segundo a data.ai, o brasileiro médio passa 5,4 horas por dia no celular. Os aplicativos mais usados — TikTok, Instagram, YouTube e WhatsApp — são acessados dezenas de vezes por dia. Só o TikTok é aberto, em média, mais de 19 vezes por usuário ao longo do dia. O tempo médio de uma sessão é de 10 minutos, mas a frequência compensa: no final do dia, são mais de 90 minutos só nesse app. No caso do Instagram, são 53 minutos. WhatsApp, 78. E isso sem contar o tempo que passamos apenas olhando a tela inicial, sem abrir nada.
Não é sempre por necessidade. Nem por interesse. Muitas vezes, é só fuga do desconforto. O desconforto do silêncio, da lentidão, da introspecção.
Este mesmo relatório traz dados sobre nossas telas iniciais:
Continua depois da publicidade
- Instagram: presente em mais de 50% das telas iniciais dos smartphones brasileiros.
- WhatsApp: também em mais de 50% das telas iniciais.
- Facebook: aparece entre 30% e 49% das vezes.
- iFood, Nubank, Telegram, Uber, Spotify, TikTok e YouTube: variam entre 10% e 29%.
O mais curioso é que, quando se pergunta às pessoas o que elas fizeram no celular, muitas não sabem responder. O mesmo estudo já citado da dscout realizou um experimento acompanhando 100 mil interações com smartphones. A conclusão: a maioria dos toques, desbloqueios e aberturas de aplicativo são feitos de forma automática. Sem intenção clara. Sem propósito. Abrimos o telefone na fila, no elevador, no banheiro, na cama, no trânsito (mesmo quando sabemos que não devíamos). Abrimos quando estamos sozinhos. Mas também quando estamos acompanhados.
Um estudo da RescueTime mostra que 53% dos usuários se dizem “incapazes de resistir” à vontade de pegar o celular mesmo quando estão tentando se concentrar em outra coisa. E um dado simbólico: 41% afirmam desbloquear o aparelho “sem nem perceber”. A ciência chama isso de “uso não intencional”. Mas, na prática, talvez estejamos apenas diante de uma nova forma de reflexo condicionado — o que o cachorro de Pavlov fazia com comida, a gente faz com conteúdo.
O telefone não é mais uma ferramenta. É um ritual. A cada microintervalo entre estímulos, a gente busca a tela. A cada segundo de espera, de desconforto, de silêncio, desbloqueamos. Não para resolver nada. Desbloqueamos por tédio. Por vício. Por medo de parecer o único da mesa que não está fazendo nada. Por vergonha de simplesmente olhar para o nada. E, mais grave, por não saber mais como lidar com o próprio pensamento sem uma trilha sonora de notificações. O sociólogo Sherry Turkle chama isso de “solidão compartilhada”: estamos todos juntos, mas cada um em sua tela. Estar presente virou exceção.
Continua depois da publicidade
Em restaurantes, casais olham para o celular mais do que um para o outro. Em encontros, o silêncio é preenchido por stories. Na cama, a última coisa que vemos antes de dormir — é o feed. A média de tempo que um brasileiro passa com o celular antes de dormir é de 57 minutos. 60% das pessoas dormem com o aparelho na mão ou ao lado da cabeça. E, ainda assim, negamos a dependência. Achamos que estamos no controle. Que podemos largar quando quisermos. Mas então o sinal cai por 30 segundos — e o desconforto aparece como um espasmo.
O celular é o primeiro toque do dia e o último antes do sono. Ele nos orienta no mapa, nos entrega comida, nos conecta com o mundo — mas também nos desconecta de nós mesmos. O problema não é o aparelho. É o quanto ele já se misturou com a nossa identidade.
Você pode chamar isso de hábito. Ou pode chamar de sintoma. De uma sociedade que desaprendeu a esperar. A estar. A pausar. Desbloquear o celular virou um gesto tão íntimo quanto coçar a cabeça. O problema é que ninguém pensa antes de coçar — só percebe quando já passou do limite. E se o limite já tiver sido ultrapassado há muito tempo?

Renato Dolci é cientista político (PUC-SP) e mestre em Economia (Sorbonne). Atua há mais de 15 anos com marketing digital, análise de dados e pesquisas públicas e privadas de comportamento digital. Já desenvolveu trabalhos em diversos ambientes públicos e privados, como Presidência da República, Ministério da Justiça, FIESP, Banco do Brasil, Mercedes, CNN Brasil, Disney entre outros. Foi sócio do BTG Pactual e atualmente, é diretor de dados na Timelens, CRO na Hike e CEO na Ineo.